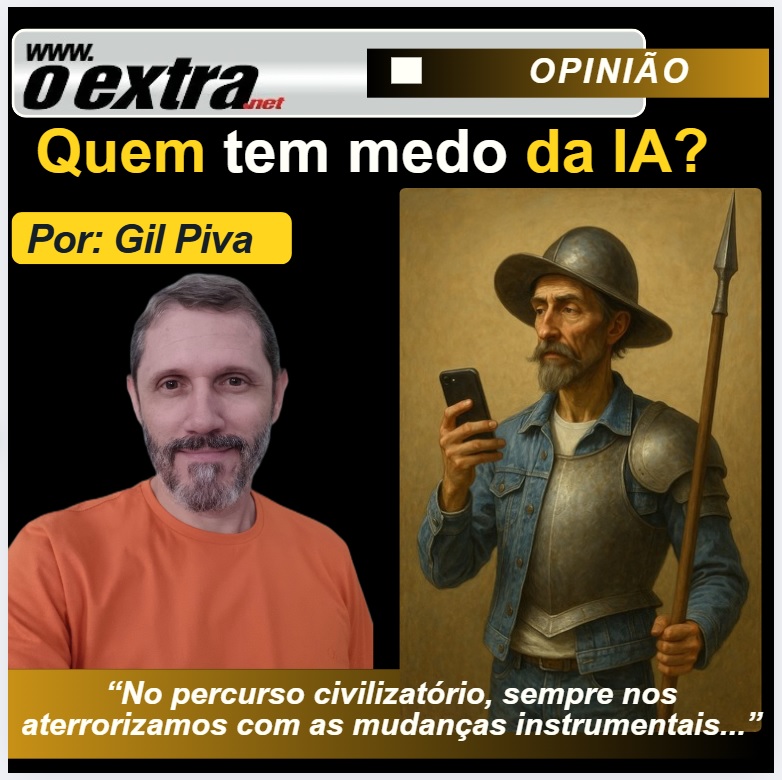
Pierre Menard tinha um único objetivo: reescrever o clássico de Cervantes. Mais que isso, queria provar que, dentro “das possibilidades do homem”, a história é inconclusa; logo, indeterminada e pertencente a todos, a qualquer época e memória. Menard, esse personagem complexo e curioso de Borges, encarna os atos contraditórios e irremediáveis de um indivíduo ou sociedade (tal juízo tem me perseguido com regularidade. Não é para menos. Impossível pensar o homem de outra maneira).
A tudo isso, Menard persistia na ideia de que não comporia “outro Quixote, mas o Quixote”; para ele, repetir a obra era de uma facilidade que não o desafiava. Pura ironia. Pois, no seu desfecho, os livros conservam uma igualdade e diferença rigorosas. Não é de se estranhar. Estamos a falar de um conto de Borges. Melhor, estamos a falar de Borges; e Borges, sendo Borges, ultrapassa como ninguém os limites - se é que há limites para a arte - intermediários das narrativas, buscando a metafísica na linguagem escrita.
Pierre Menard, Autor do Quixote está no livro Ficções. Nesse conto, Borges tece paralelos entre criações e (re)criações: originalidade versus subordinação, e os princípios de cada época (e suas razoabilidades) emprestados a uma obra artística. A conclusão parece óbvia: o tempo é a (nossa) “verdadeira história”. Nada é tão simples: a verdadeira história contemporânea só é verdadeira se nela houver ambiguidades. Eis o motivo pelo qual o Quixote de Menard é idêntico e diverso ao de Cervantes. Se a resposta aparenta descomplicada, sua aparência é enganosa. Na lógica do respectivo tempo, a arte, reproduzida com as perfeições e imperfeições de uma cópia, ganha novos contornos.
Todos os dias as pessoas falam da IA. Falam da morte da criatividade, da perda da originalidade, do fracasso do pensamento, do encerramento do humano. Toda vez que ouço uma dessas sentenças, me lembro de Borges. Reli seu conto (quase moderno) para terminar este texto, e aprendi que tanto os medos recentes se explicam quanto não se justificam.
No percurso civilizatório, sempre nos aterrorizamos com as mudanças instrumentais: quando a prensa de Gutenberg deu cabo dos livros manuscritos, apregoaram o fim da literatura; quando as capas duras deram lugar a capas e lombadas flexíveis, foi a mesma coisa; quando a internet surgiu, discursos apocalípticos foram restaurados. Em O Nome da Rosa, Umberto Eco reflete sobre o papel dos monges copistas, que se julgavam guardiões das verdades - por eles copiadas, interpretadas e, evidente, censuradas.
O que Eco e Borges estão dizendo é que nossas criações existem a partir de outras referências. Há escritores que, ao iniciarem um livro, deixam de ler outro escritor com receio de serem influenciados. De alguma forma, ele é influenciado por tudo o que leu, conheceu e assimilou, direta ou indiretamente, ao longo de sua vida.
Mais cedo ou mais tarde, eu tinha de arriscar. Depois de finalizado meu artigo anterior, sobre Cioran e o pessimismo, cometi a proeza de lançar o desafio à IA conforme orientações. Utilizando certos conceitos e comandos, pedi a ela que desenvolvesse um artigo similar ao estilo e detalhes do que eu havia escrito. O resultado foi impressionante. Confesso que fiquei com inveja de algumas frases e colocações. De resto, acho que saí vitorioso (risos). Explico. Enviei para alguns amigos ambos os textos, pedindo que adivinhassem qual era o meu. Todos reconheceram o meu jornalismo de opinião. A lição que fica: para um autor, seu estilo é e será sempre inconfundível.
Volto aos temores infindáveis da modernidade tecnológica e à pergunta que permanece: o que, de fato, nos humaniza? Para a maioria das pessoas, artistas e intelectuais, a resposta é luminosa como um holofote: a arte, a capacidade de criação; ou seja, todos apostam nessa forma rudimentar de inventividade como definição humanizadora.
Não nego que a arte, entre muitas outras habilidades humanas, seja sublimada, em grande medida, pelos nossos feitos e festejos. Há poréns. Saddam Hussein, esse homem maravilhoso, que com armas químicas massacrou milhares, foi responsável por romances e poesias de qualidades aceitáveis. Surpreso? Se a arte nos redime e nos ampara em um mundo desumano, como explicar a perícia artística de Saddam?
Busco auxílio em Northrop Frye, no seu bem-aventurado A Imaginação Educada (Vide Editorial). Desculpe, leitor, o toque de realidade: para Frye - e eu penso igual - livros bons ou maus não existem. “O destino do livro dependerá da inteligência do juiz.” Talvez, no caso da IA, sua função destruidora das nossas superestimadas aptidões intelectuais também dependerá da esperteza do juiz.
Frye não deixa pedra sobre pedra: ressalta que muita gente “só lê para fugir um pouco da realidade”. Por esses caminhos, segundo ele, supondo que a literatura não reflita - de acordo com a nossa vontade - a vida e nossa condição, em algum momento nada escapa dela, até que ela nos engole. E sentencia: fechar nossa mente para suas limitações e os lugares de reflexão que a literatura - ou a IA - oferece nos limita e nos faz morrer por dentro, já que a imaginação deixa de ser educada.
Ilude-se quem supõe que Menard, ao ressuscitar Quixote, não “pensou, analisou, inventou”. Menard, ao se entregar à linguagem, tentou se eternizar na própria imortalidade da arte.
Quanto à IA, seu futuro - e o nosso - consistirá nos tipos de vislumbres que faremos dela. Render-se a ela é destruir o tempo de nossas possibilidades; ocupar-se dela sem ser possuído significa ser fiel à nossa sensibilidade - que, ao contrário de Saddam, apenas se refina mediante nossas falhas e o reconhecimento de nossos defeitos.
Se há algo de incontestável no que nos humaniza e nos distingue de uma IA, estaria mais do que em experimentar nossa impotência pela imaginação; estaria em expressar - pela arte - nossa impotência experimentada. As duas frases soam idênticas, mas, como Menard, sei que são completamente diferentes.
Gil Piva
O texto é de livre manifestação do signatário que apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados e não reflete, necessariamente, a opinião do 'O Extra.net'.